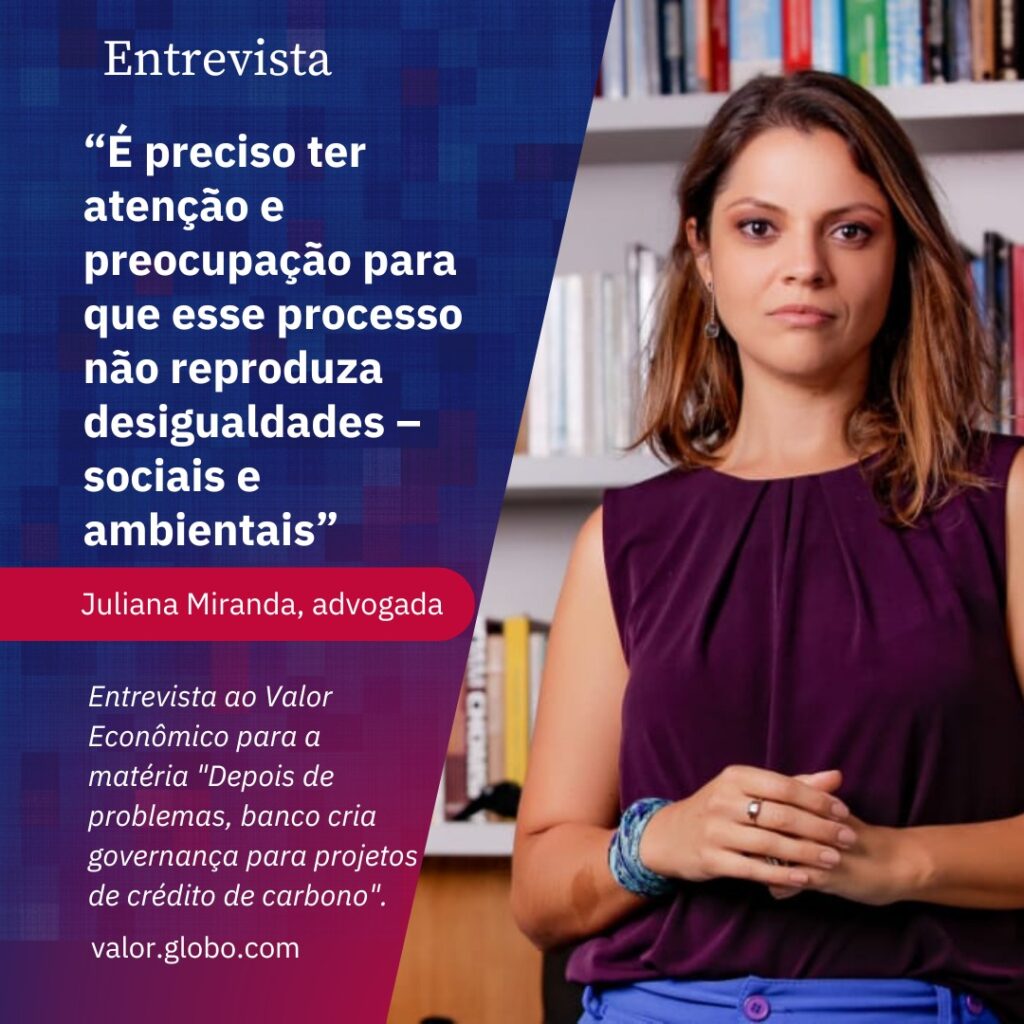Depois de ter comprado créditos de carbono cujo projeto foi acusado de irregularidade, banco espanhol cria governança interna com due diligence mais profunda.
Por Cláudio Marques
O banco espanhol Santander levou um susto quando, em 2022, créditos de carbono que havia comprado foram cancelados por conter irregularidades. “O projeto já tinha quatro ou cinco anos de créditos emitidos, quando veio a informação de que existia um processo aberto para desapropriação daquela terra para uma comunidade extrativista e que, por conta disso, o dono da terra já não era mais o dono e os créditos não valiam mais nada”, diz Luiz Masagão, diretor de Tesouraria do banco Santander. “Aprendemos com o evento e evoluímos melhorando nossa governança interna”, afirma.
O banco continua no mercado comprando títulos para compensar 45 mil toneladas de suas emissões em 2022. Mas, de acordo com o executivo, a postura mudou. “Antes estávamos nos baseando somente na [certificadora] Verra, mas agora criamos uma governança interna com due diligence mais profunda”, diz. Por ter uma experiência profunda em análise de informações do agronegócio, setor para o qual empresta grandes volumes de dinheiro, a instituição financeira quer usar cada vez mais esse know how da área de crédito para a de carbono. O interesse da instituição, porém, vai além da compra de créditos para compensar sua emissão. Em abril do ano passado o banco comprou 80% da desenvolvedora de projetos WayCarbon – uma aposta no futuro do mercado de créditos de carbono e uma maneira de passar de compradora para vendedora de créditos.
A WayCarbon tem um time desenvolvendo projetos. Segundo o banco, os projetos terão alta integridade – aproveitando inclusive aquele conhecimento da área financeira em relação às informações referentes à propriedade, garantia de biodiversidade e de co-benefícios para populações próximas às áreas dos projetos. Masagão não dá detalhes, mas diz que os projetos serão usados para as próprias compensações e também serão vendidos para os clientes, uma vez que o banco se comprometeu a se tornar net zero em 2050, nos escopos 1, 2 e 3, o que inclui sua própria operação, os fornecedores e clientes nessa conta. Além da preocupação com questões legais e reputacionais, grandes empresas compradoras de créditos também são exigentes em relação ao tipo e qualidade do projeto que buscam acompanhar. “Preferimos projetos que gerem mais impacto positivo no capital humano, além do ambiental”, afirma Silvia Vilas Boas, vicepresidente de Finanças de Natura &Co América Latina.
Ela cita o exemplo de um projeto na Bahia, que remodelou o fogão a lenha, muito usado por famílias na região, a fim de consumir menos lenha e ter uma chaminé de escape. Antes da mudança, as famílias eventualmente usavam resíduos de fezes animais secas para fazer a combustão dos fogões. “A fumaça se espalhava pela casa toda, podendo impactar na saúde dos moradores. Na nossa métrica do projeto, entra, por exemplo, a saúde das pessoas que antes eram afetadas por ingerir a fumaça e o tempo da família para coletar a lenha. Olhamos o impacto do projeto com um todo”, diz. Segundo ela, a ambição da Natura não é ser carbono neutro. “É reduzir todos os dias essas emissões.”
Ainda que sejam poucas as empresas que se envolvem nos projetos, o mercado voluntário de crédito de carbono anda de vento em popa. Empresas de praticamente todos os setores já compensam emissões que não conseguiram, ainda, reduzir. A farmacêutica Eurofarma, por exemplo, neutraliza 100% das emissões diretas, equivalente a 18.802 toneladas. Em sua primeira ação nesse sentido, em 2021, o laboratório investiu em dois projetos voltados à proteção na Amazônica Legal, em uma área que sofre com desmatamento ilegal. Já em 2022, a neutralização beneficiou um projeto em Salvador (BA) para captação de gás metano gerado pela decomposição de resíduos urbanos em aterros sanitários, e posterior aproveitamento na geração de energia elétrica renovável.
A incorporadora Cyrela, por sua vez, recorreu à climatech Moss para avaliar os projetos para compensar suas emissões diretas de 1.200 toneladas. Rafaella Carvalho Corti, diretora Jurídica e de Compliance da Cyrela, admite interesse no investimento em projetos de floresta em pé, mas de preferência nas regiões onde a companhia tem operações. Neste caso, a Mata Atlântica deverá ser o alvo. Na visão do advogado Guilherme Mota, sócio de prática ambiental do Lefosse Advogados, o cenário atual mudou. “É realmente de mais cautela na seleção dos projetos em que se vai adquirir carbono, em que se vai investir”, afirma. Franciele Salvador, diretora Jurídica da Carbonext, diz que a régua do mercado subiu. “A cada 10 áreas para análise [de projetos] que nos chegam, sete não passam”, declara.
Tensão nas comunidades
As questões legais e técnicas envolvendo projetos de créditos de carbono têm colocado em segundo plano outra discussão: a situação das populações e comunidades que têm relação com as áreas visadas. Para a advogada Juliana Miranda, da Hernandez Lerner e Miranda Advocacia em Direitos Humanos (HLMA), há assimetrias nesse relacionamento, principalmente em relação às informações do projeto. Coordenador do Centro de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces), que atua em toda a Amazônia, o professor Mario Monzoni diz que os problemas já começam na abordagem às populações locais e que há desconforto e até relatos de tensão nesse relacionamento entre representantes do mercado e os habitantes.
A advogada diz que existem possíveis situações de assédio, de abordagens assimétricas de agentes do mercado, de abordagens sem consulta prévia e sem consentimento das comunidades. E aí existe uma diversidade de atores envolvidos, desde pessoas jurídicas de diversas naturezas, como consultorias, bancas de advocacia, desenvolvedores de projetos a experts no assunto e intermediários. “Há empresas que nunca atuaram na Amazônia, que desconhecem a dinâmica da questão fundiária e uso da terra. Os contratos, às vezes, são assinados por associações ou pessoas que não representam efetivamente os povos e as comunidades. Está se destruindo as relações sociais”, afirma o professor.
Tanto Monzoni quanto Miranda fazem questão de dizer que não estão generalizando. Mas há o temor de que esse cenário possa levar à rejeição de um instrumento financeiro que ajuda a preservação de florestas. Em relação a problemas detectados, o professor diz que há, por exemplo, falta de informação sobre os sobre benefícios ou perdas. Segundo a advogada, há comunidades que assinam contratos sem conhecer, sem entender exatamente o que está se colocando. “Não é um tema simples compreender como mensurar, por exemplo. São assuntos que além da tecnicidade envolvem processos de 20, 30 anos”, lembra Miranda.
Outras vezes, nem sabem exatamente o que está acontecendo. Há o caso da venda de créditos sobre uma área de terras públicas de conservação na Ilha de Marajó e consideradas reservas extrativistas. O dinheiro não estaria sendo repassado às comunidades extrativistas, que entraram na Justiça pedindo indenização por danos morais e coletivos contra a empresa que comercializa os créditos. Um conflito de entendimento sobre a competência da Justiça – estadual ou federal – para julgar o caso remeteu o assunto para o Superior Tribunal de Justiça, que ainda não se manifestou a respeito.
Segundo o professor, os contratos quando chegam para as comunidades não informam adequadamente que o projeto pode restringir o uso do território em relação à caça, manejo e agricultura. Pode também haver remoção de famílias ribeirinhas. “Impactam o modo de vida”, reforça. “A sensação que as pessoas têm é de que as empresas querem ensinar como se cuida da floresta”, declara o coordenador da FGVces.
Ele defende que é preciso ensinar a “turminha de cá”, do mercado, como se opera na Amazônia. “Chegam dizendo que vão capacitá-los [a população local] em mudança climática, em mercado. Não é esse o ponto. A questão é perder um pouco essa arrogância da Faria Lima e perceber que quem precisa de capacitação é a Faria Lima. É muito dinheiro, e uma perda reputacional custa dinheiro”, afirma o professor
Protagonismo
Miranda defende que o caminho inverso também é muito valioso. “As populações e comunidades, a sociedade civil, também têm de entender o mercado, para que ele não seja esse ator que induz, mas que seja um ator provocado”, defende. A proposta é que essas comunidades, a partir de uma reflexão autônoma, interna e coletiva entendam que esse é um caminho para serem protagonistas nesse processo.
Segundo ela, muitas comunidades e organizações da sociedade civil querem compreender esse mercado. “Não só para se posicionarem melhor, mas também para disputar esse espaço, protagonizar, se envolverem autonomamente em projetos”, reforça. É um jogo que ocorre em meio ao quadro fundiário brasileiro, em que há disputa por áreas e tem gerado conflitos socioambientais. Ao mesmo tempo, o desmantelamento de políticas públicas ambientais nos últimos anos, contribui para tornar ainda mais vulneráveis essas comunidades e colocando risco até mesmo a sustentabilidade financeira delas. “É preciso ter atenção e preocupação para que esse processo não reproduza desigualdades – sociais e ambientais”, diz Miranda.
(Colaborou Naiara Bertão)
Fonte: Valor Econômico, O Globo